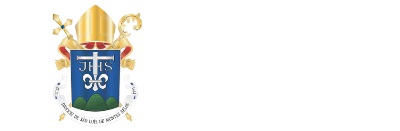Dom Lindomar Rocha Mota
Bispo de São Luís de Montes Belos (GO)
Quando penso no nosso tempo, não o vejo como um corredor de ideias, mas como a travessia por dentro de uma igreja em reforma. Há andaimes no trifório, panos cobrindo arcadas, capitéis por concluir, pedras numeradas à espera do encaixe. A imagem me veio da velha Notre-Dame, narrada no romance homônimo de Victor Hugo. Também nós, hoje em dia, nos encontramos com nossas técnicas e crenças, nossas dúvidas e hábitos na difícil sina de caminharmos com a cabeça de uma era e os membros de outra. Um elemento indizível que nos atravessa como um híbrido que respira.
O que alguns apressados chamam de fim, eu chamo canteiro, obra aberta, pendente, entregue ao toque do tempo e ao trabalho paciente das mãos.
Aprendi com as pedras que os grandes monumentos não são fruto de um único gênio, mas de sucessões que se enxertam, corrigem, contradizem e continuam. O românico não apagou o gótico, a alquimia das oficinas não dissolveu a aritmética dos pedreiros. Tudo se junta, às vezes de modo brusco, e a junção pode gerar o sublime. Assim também a nossa cultura, código antigo com novos commits, tradição recebendo patches e bibliotecas inéditas. Entre o claustro e a nuvem, a continuidade existe, embora difícil. Por isso, o perigo maior não é a erosão lenta, mas a pressa de uma reforma sem gramática e a ânsia de utilidade que desfigura o que não sabe ler. Diante de um tempo-intermédio assim, a tarefa primeira não é derrubar portas, mas restaurar, conservar sem idolatrar, inovar sem profanar.
Houve um momento em que o edifício deixou de ser o grande livro do povo. A imprensa, com sua potência de multiplicação, destronou a pedra como suporte soberano do pensamento. Não foi aniquilação, foi troca de trono. Hoje vivemos outra destituição silenciosa. O executável desloca o impresso, o processo suplanta a página, o fluxo governa o capítulo. Em vez de margens e colofões, estados e pipelines; no lugar de bibliotecas como depósitos da lembrança, grafos e índices que prometem acesso imediato.
O gesto mental muda com o suporte. Aquilo que em certa época conseguimos pensar e partilhar porque tínhamos paredes, depois porque tínhamos páginas, agora se organiza porque temos modelos, protocolos e dados. Essa é a nova forma do comum.
Há um mundo que declina e, se o escutarmos com respeito, saberemos honrá-lo.
Arrefecem os ritmos rurais que marcavam, como sinos, as horas do ofício, cede a centralidade do analógico como medida de presença; rareia o demorar dos ofícios, perde terreno a memória como retenção.
Apenas respira a disciplina da lembrança que punha pessoas e comunidades diante de arquivos, cadernos, bibliografias anotadas, santos de devoção e provérbios de família. Enfraquece a autoridade vertical transmitida por cátedras e cânones, esgarça-se a linearidade em capítulos, mingua a emissão escassa que fazia de cada palavra impressa um acontecimento.
Em seu lugar, ergue-se um mundo novo in statu nascendi, simultaneamente voraz e evasivo. Chamemo-lo digital, comunicação ubíqua, inteligência artificial — rótulos incompletos para um regime em que a abundância de emissão cria, paradoxalmente, escassez de atenção; em que a memória já não se mede pela posse, mas pelo alcance; em que o presente é continuamente refeito por feeds que reordenam prioridades na escala de milissegundos.
A tela deixa de ser superfície para tornar-se processo. O texto cede ao enunciado-função que recomenda, decide, prevê. O que outrora eram catedrais de pedra e bibliotecas de papel converteu-se em centros de dados discretos, cabos submarinos, algoritmos de ranqueamento, modelos de linguagem. Uma arquitetura lógica cuja monumentalidade não se mede em altura, mas em dependência. É um poder difuso, às vezes anônimo, com um novo clero de administradores de chaves, curadores de dados, guardiões de protocolos.
Como toda ascensão rápida, a novidade traz tentações. A primeira é a idolatria do presente absoluto, brilho que confunde atualização com verdade, velocidade com sabedoria. A segunda é a dilaceração da memória: quando o arquivo vira corrente, perde-se contexto, e o passado se contorce para caber em formatos que mal o suportam. A terceira é a iniquidade discreta: plataformas que prometem tudo a todos podem excluir os mesmos de sempre por padrões invisíveis, alimentados por assimetrias antigas. A quarta é o poder sem rosto, exercido por políticas de moderação e desenho de interfaces cujo impacto supera o de mil leis e raramente se submete a escrutínio. Não digo isto por espírito de denúncia, mas por dever de lucidez. Uma era que se pretende transparente não pode aceitar zonas de sombra justamente nas estruturas que a ordenam.
Diante desse quadro, proponho a paciência de ser. Não escolher entre nostalgia e iconoclastia, e sim aprender a unir, como pedreiros pacientes, uma pedra nova ao corpo antigo.
Na prática, isso exige critérios de interoperabilidade para que o hoje dialogue com o ontem; auditabilidade para que decisões automáticas possam ser compreendidas e corrigidas; formatos abertos que preservem legibilidade; guarda de contextos que acompanhe o documento quando ele viaja; compromisso com reversibilidade, porque toda reforma precisa deixar caminho de volta quando erra. Ah, também uma ascese da atenção, virtude discreta e decisiva capaz de desacelerar o olhar para não sermos arrastados a golpes de novidade, reaprender o gosto do estudo, aceitar a demora como condição do juízo.
Uma educação nova, uma nova alfabetização. Não só ler e escrever textos, mas ler e escrever processos. Entender o que é um modelo, como recomenda, por que acerta, onde falha; separar correlação de causalidade; decifrar grafos de dependência como quem lê uma carta antiga; perceber que toda interface é uma opinião com botões.
O povo que outrora lia figuras nas portas das igrejas e depois soletrou páginas, agora precisa aprender os hieróglifos do digital para que a cidadania não seja delegada a quem “sabe mexer”. A hermenêutica do nosso tempo não se limita a exegeses de frases, mas inclui auditorias de fluxos. É obra humilde e alta, e não será feita por especialistas isolados, mas por comunidades de aprendizado — escolas, paróquias, bibliotecas, universidades, coletivos — até que o vocabulário comum se amplie outra vez.
Sei que um discurso sobre a época tende a virar programa. Contento-me com menos e peço algo mais: responsabilidade sine ira et studio. A comunicação total pode ser hospedaria ou labirinto; a inteligência artificial, prótese de justiça ou acelerador de iniquidades; o digital, praça ou mercado ruidoso.
Talvez a política do futuro imediato seja menos a multiplicação de leis e mais a invenção de salvaguardas — guardrails —institucionais e culturais, para que o poder difuso não se torne irresponsável. A Igreja, as universidades, o jornalismo, as comunidades de fé e de prática têm aqui um papel de custodiar memória, dar tempo ao tempo, ensinar palavras que faltam e calar quando o silêncio é a única
No íntimo, tudo se resume a uma forma exigente de esperança. Não a esperança fácil, que aguarda que “tudo se resolva”, mas a que se compromete com a obra e aceita a labuta.
Para isso, cada um de nós precisa decidir que pedra pode acrescentar. Alguns erguerão andaimes de pesquisa, outros ofertarão degraus de justiça, outros ainda, vitrais de beleza que instruem sem explicar. Todos, porém, terão de responder por duas fidelidades: à verdade que nos excede e às pessoas concretas que nos foram confiadas, sobretudo as que menos lucram com o novo regime de visibilidade. Se falharmos nelas, o santuário poderá reluzir por fora, mas por dentro faltará a santidade.
Por fim, digo no singular para que eu me escute primeiro, não quero ser turista de ruínas nem engenheiro de demolição. Quero reconhecer onde o antigo nos ancora, onde o novo nos amplia e onde ambos pedem correção. Evitar o gesto fácil de renomear tudo e chamar de “progresso” o que é apenas ruído; recusar o gesto sombrio de declarar falência e chamar de “tradição” o que é só medo. Entre os extremos, construir.
Não é pouco, nem rápido. Mas é a maneira digna de atravessar este tempo-intermédio com uma mão no arquivo e outra no código, uma orelha no sino e outra no feed, o coração mais inclinado à escuta do que à emissão, mutatis mutandis, para que a casa não caia e para que, um dia, à pergunta sobre o que fizemos enquanto o mundo mudava, possamos apontar uma pedra bem assentada por nós.